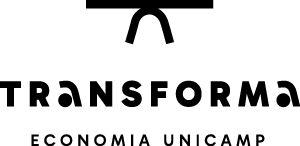Em meio à corrida global por minerais, alimentos e energia limpa, a Amazônia ocupa posição central no novo mapa da acumulação capitalista. O bioma tornou-se um dos principais eixos de exportação de commodities do país — um papel que reflete tanto a reorganização produtiva do território quanto a reconfiguração do Estado em torno de grandes obras e fluxos logísticos. Essa é a análise da Nota Técnica 19 – A Amazônia como epicentro do padrão global de acumulação e os processos de desterritorialização, de autoria de Giliad de Souza Silva, publicada pelo Projeto Transforma, do Instituto de Economia da Unicamp, em parceria com a Fundação Friedrich Ebert (FES).
A nota propõe uma leitura estrutural do papel amazônico na economia brasileira, sustentada pela combinação entre abundância de recursos naturais, demanda internacional por commodities e arranjos institucionais e logísticos que viabilizam sua extração e circulação. Nesse modelo, a região é integrada às cadeias globais de valor não por meio da industrialização ou da agregação de valor, mas como base de extração de matérias-primas — uma configuração que reproduz desigualdades históricas e amplia processos de desterritorialização.
O documento destaca que o atual padrão de acumulação brasileiro é primário-exportador, tendo como eixo dinâmico a exportação de minério de ferro, petróleo, soja, milho e carnes. A Amazônia é o território mais estratégico desse arranjo. Em 2022, apenas quatro municípios — Parauapebas, Canaã dos Carajás, Marabá e Curionópolis — concentraram quase 70% da receita operacional da Vale no país. De forma semelhante, metade dos dez maiores produtores de soja do Brasil localizam-se no bioma ou em áreas de transição com o Cerrado, o que evidencia o avanço do agronegócio sobre zonas antes cobertas por floresta.
A centralidade amazônica no padrão global de acumulação resulta de uma dupla articulação: de um lado, o arranjo econômico, composto pelas atividades motoras e subsidiárias da economia (mineração, agropecuária, logística e energia); de outro, o arranjo institucional, sustentado por políticas públicas e estruturas estatais que asseguram estabilidade a esse modelo — incluindo marcos regulatórios, crédito, investimentos e infraestrutura. Ao integrar esses dois planos, o estudo mostra que o desenvolvimento regional não se orienta pela inclusão social ou pela diversificação produtiva, mas pela eficiência da extração e circulação de bens primários.
Essa lógica tem efeitos diretos sobre os povos da floresta. A mineração e o agronegócio são estruturalmente incompatíveis com modos de vida indígenas, quilombolas e ribeirinhos. A desterritorialização — conceito central da nota — aparece em duas dimensões interligadas: física, com deslocamentos e perda de acesso à terra; e simbólica, com a deslegitimação de saberes e identidades locais. O território, assim, é reconfigurado não a partir das relações sociais e ecológicas, mas das exigências dos corredores logísticos e das cadeias globais de valor.
O texto identifica ainda o papel decisivo do Estado na consolidação desse modelo. Desde os anos 2000, programas como o PAC, o Plano Nacional de Logística (PNL 2035) e, mais recentemente, o Novo PAC, têm priorizado investimentos em infraestrutura voltada à exportação. A lista inclui hidrelétricas (Belo Monte, Jirau, Santo Antônio), rodovias (BR-163, BR-319), ferrovias (Ferrogrão, FICO) e complexos portuários (Miritituba e Santarém). Embora apresentados como projetos de integração regional e modernização produtiva, esses empreendimentos reforçam a função da Amazônia como fornecedora de recursos naturais para os mercados globais.
As consequências socioambientais e políticas são amplas. Relatórios recentes de organizações como a Transparência Internacional e o WWF Brasil, citados na nota, associam os grandes projetos na Amazônia a práticas de corrupção sistêmica e a graves impactos ambientais. A pressão sobre marcos legais de proteção, a expansão da grilagem e o desmonte de políticas de regularização fundiária completam o quadro de vulnerabilidade institucional que sustenta o avanço das fronteiras extrativas.
Ao discutir alternativas, o estudo destaca a necessidade de um novo paradigma de desenvolvimento territorial, fundado na justiça socioambiental e na valorização das capacidades locais. Entre as experiências em curso, ganham destaque a Nova Economia da Amazônia (NEA), liderada pelo WRI Brasil, e a Amazônia 4.0, concebida no âmbito da “Iniciativa Terceira Via Amazônica”. Ambas propõem a transição para um modelo de bioeconomia de base florestal, combinando inovação tecnológica, conhecimento tradicional e governança territorial.
Outras propostas citadas incluem a recuperação de áreas degradadas, o estímulo a sistemas agroflorestais e o aproveitamento energético de resíduos. Estudos como os do Instituto Escolhas demonstram o potencial do biogás e da produção descentralizada de energia limpa em toda a Amazônia Legal. Já o Projeto Amazônia 2030 propõe a restauração de 10% das áreas desmatadas, o que poderia gerar receitas de R$ 132 bilhões e evitar a emissão de 2,6 bilhões de toneladas de CO₂.
Apesar da diversidade de iniciativas, o autor argumenta que o avanço dessas alternativas depende de transformações institucionais profundas. O Estado deve reassumir papel central na regulação e redistribuição dos benefícios econômicos, enquanto o setor privado precisa ampliar sua capacidade de inovação em direção a atividades de baixo carbono. Do contrário, mesmo as políticas rotuladas como sustentáveis correm o risco de reproduzir o mesmo padrão de exploração sob novas roupagens.